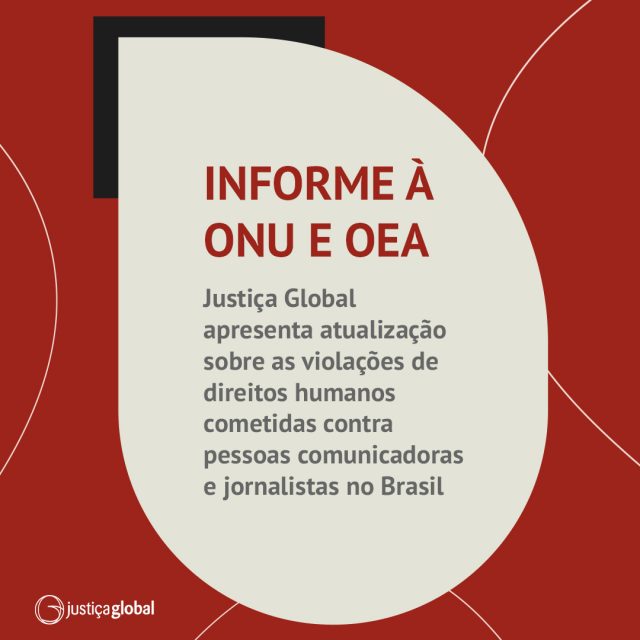Na madrugada desta terça-feira (8), faleceu Dona Júlia Procópio, uma das fundadoras da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência. Nascida em Minas Gerais, Dona Júlia passou toda a sua vida adulta no Rio de Janeiro, onde construiu uma trajetória de luta contra o racismo e a violência do Estado. A Justiça Global teve a honra de homenagear esta grande defensora de direitos humanos ao final de 2016, na III Homenagem Maria do Espírito Santo Silva. Os ensinamentos de Dona Julia seguirão sempre em nossos caminhos; sua história de luta será sempre uma inspiração.
Leia abaixo a biografia dessa grande lutadora, feita para a homenagem:

“A noite não adormece
nos olhos das mulheres”
Conceição Evaristo
Meninas pobres e negras, retiradas de sua família, levadas até as grandes cidades para prestarem serviços domésticos. A realidade ainda aflige milhares de meninas em todo o país, e poucas vezes é tratada com o nome devido: exploração do trabalho infantil. Ou pior: trabalho escravo infantil. Do Leblon aos Jardins, a casa grande brasileira ainda reproduz silenciosamente práticas racistas, escravocratas, fazendo do passeio no Shopping Center a imagem viva de um quadro de Debret.
O trabalho escravo infantil doméstico foi uma dura marca na história de Dona Julia Procópio. Ainda menina, aos doze anos, Dona Julia foi levada de sua cidade natal, Três Corações, em Minas Gerais, por uma rede de tráfico de pessoas. O destino foi a cidade do Rio de Janeiro. Dona Julia saía, assim, da casa de sua família para a “casa de família”. Nos anos seguintes, ela faria a transição da infância para a adolescência junto a panos, baldes e panelas, na casa de militares, sem qualquer tipo de amparo ou apoio.
A remuneração prometida em troca dos trabalhos prestados nunca chegaria. “Ela disse que ia mandar o dinheiro para a minha mãe em Minas”, relembra Dona Julia, uma senhora negra de 65 anos. A mãe permaneceu em Três Corações, sem nunca ver um centavo do pagamento prometido à filha.
“Eu trabalhava desde a manhã e só podia dormir depois que chegasse a última pessoa da casa; não me deixavam sair, só se tivesse que trazer alguma coisa da rua”, conta Dona Julia. Além do terror psicológico, do regime de cárcere privado, a rotina incluía castigos e maus tratos físicos: “Às vezes ela tacava a panela na minha cara, me batia, e eu gritava: eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora desse lugar!”
Certa vez, uma vizinha perguntou à menina Julia se ela queria “dar parte na polícia”. A resposta reproduziu o pavor da criança acuada: “Não, não, por favor não, são tudo gente grande, e se eles vem me matar?”
A família que mantinha Dona Julia em regime escravo tinha várias casas no Rio de Janeiro, e também em São Paulo. Não era incomum que ela passasse períodos em diferentes casas da família. “Eles me levaram para São Paulo para ficar cuidando da filha deles que estava de resguardo, tinha acabado de ter bebê. Aí quando acabou o resguardo eles me trouxeram de novo para o Rio”. A criança negra, escravizada, embalava os primeiros sonhos da criança branca que acabara de nascer, sonhos que lhe foram roubados de sua própria infância.
Nas poucas saídas para resolver os assuntos da família na rua, Dona Julia conheceu Eni. A mulher se tornaria a sua única amiga no Rio. “Eni morava na favela, eu ia para a casa dela escondida às vezes”, relembra Dona Julia, ao falar da pessoa que mudaria novamente o rumo de sua vida. “Teve um dia que ela falou pra mim ‘É hoje que vai acabar essa história toda, eu vou até lá, vou te apanhar de lá’”. Eni entrou na casa apresentando-se como prima de Julia, e anunciou, sem tergiversar, que ela não ficaria mais ali. “Eles não me deixaram levar nem uma peça de roupa”, conta Dona Julia.
Aos 16 anos, Dona Julia retornou a Minas, mas pouco tempo ficou antes de voltar ao Rio. Não se acostumaria novamente a uma vida que lhe fora tirada das lembranças. O retorno foi para junto de sua amiga Eni, na favela do Amarelinho, em Acari, onde ergueu um barraco de estuque. Foi lá que Dona Júlia conheceu Carlos, e com ele teve oito filhos. Três de seus filhos morreram, ainda bebês. O casal de gêmeos faleceu logo após o nascimento, com falência respiratória. A pequena Adriana morreu aos seis meses, por problemas cardíacos.
No enterro de Adriana, Dona Júlia encontrou outra criança no caixão. “Quando eu cheguei para enterrar ela, era um garoto que estava no caixão. Eu falei: não é minha filha, não é minha filha, vou abrir o caixão. Quando abri e levantei a roupa, era um menino. Foi uma jornalista que estava no cemitério que me ajudou, eu fui achar a minha filha toda aberta em uma mesa que eles estavam estudando. Eu desmaiei, vi minha filha toda aberta… E a mãe do menino lá louca procurando por ele”.
Foi na favela do Amarelinho que Julia criou os cinco filhos. “Eu fazia blusa pros meus filhos com saco, colocava dois bolsinhos. Tinha dias que eles não tinham nada pra comer, eu fazia bofe com angu pra eles comerem, e eles iam pra escola, se formar”. Quando sua irmã faleceu, ela também passou a criar suas três sobrinhas. Como a irmã morava em Belford Roxo, a rotina de Dona Júlia passou a alternar períodos na Baixada Fluminense e períodos no Amarelinho.
Dona Julia fez trabalhos domésticos durante toda a vida. Também foi camelô, teve um carrinho de cachorro-quente. “Eu nunca trabalhei de carteira assinada, trabalhei sempre em casa de família”. Os estudos ficaram para a fase adulta: “Eu fui estudar depois de velha, em 2003, em um colégio no Irajá. Eu estudava à noite, ia terminar o segundo grau”.
No Amarelinho, Julia conheceu Penha, mãe de Maicon, então com dois anos de idade. Dona Julia estava na rua perto de sua casa quando viu Maicon ser assassinado por policiais em uma operação na favela de Acari. “Um rapaz veio até mim gritando: tia, tia, socorre o filho da Penha! Eu cheguei perto e Penha estava desesperada, chorava ‘socorre meu filho, socorre meu filho’, e entrou no carro com o menino pra ir para o hospital”. O caso do assassinato de Maicon, em 1996, prescreveu após vinte anos, sem que ninguém tenha sido responsabilizado.
Foi através da luta por justiça de Penha e Zé Luís, mãe e pai de Maicon, que Dona Julia se aproximou da Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência e da luta contra a violência do Estado. “Ainda não era a Rede naquela época, era ‘Posso Me Identificar?’. Eu conheci ali a Patrícia, que me ajudou muito, muito mesmo, eu gosto dela como uma filha”, relata Dona Julia sobre Patrícia Oliveira, uma das fundadoras da Rede. “Fizemos muitas passeatas, era um movimento muito bonito, era um movimento das mulheres também. Aí eu conheci e fiquei na Rede, entrei em 2003”.
Dona Julia já tinha uma intensa militância política no Amarelinho, consolidando-se como uma liderança local. Aproximou-se da militância partidária, e foi muitas vezes candidata a vereadora. “Eu não tinha medo de nada, de nada. Se alguém fizesse algo contra você eu ia comprar o seu barulho. Fui presa porque entrei na frente de um policial que apontava a arma para um menino”.
Nas recordações de Dona Júlia, o retrato de uma vida de luta e resistência contra violações que insistem em incidir sobre os corpos negros. Trabalho escravo, trabalho precarizado, violência institucional. “A minha vida foi assim, na luta. E sustentei meus filhos vendendo cachorro-quente, bolinho, passando roupa, fazendo faxina”, conclui, sabendo que há, ainda, muitos capítulos a serem escritos em sua história.